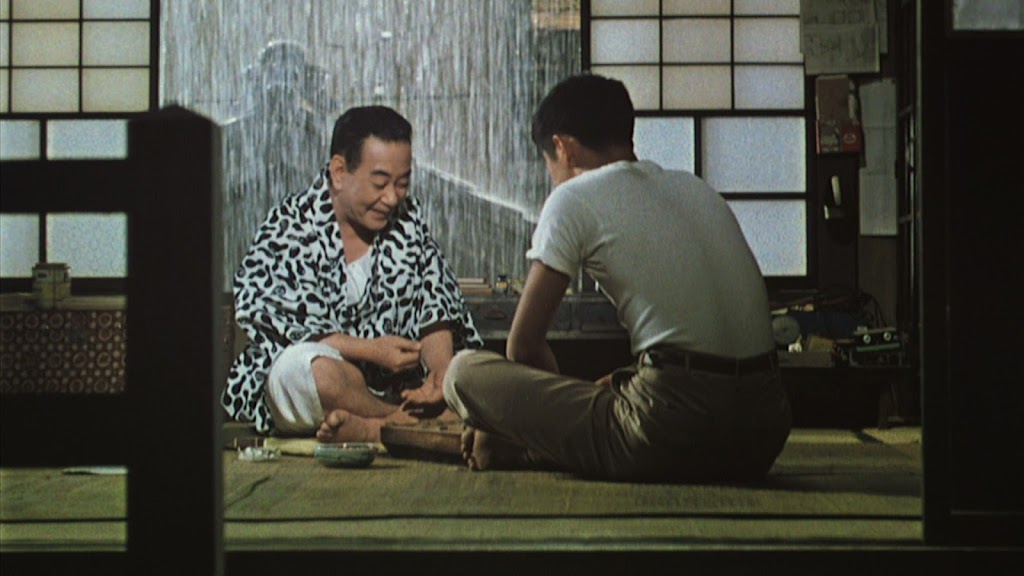A carruagem de ouro (Le carrosse d’or, França, 1952), de Jean Renoir.
Um grupo italiano de Commedia Dell’Arte chega a uma colônia espanhola na América do Sul, no século XVIII. O grupo é surpreendido pela rusticidade do local que não tem sequer um teatro para apresentações. Camilla (Anna Magnani), estrela do grupo, se revolta com as condições, mas vai ter que vencer sua frustração pelo amor à sua arte.
O filme é uma comédia satírica fortemente marcada pela estética, cores exuberantes, com claras referências às artes plásticas, e pela interseção entre o cinema e o teatro, entre a vida real e a ilusão provocada pelas encenações artísticas.
Anna Magnani é o destaque da trama com sua exuberância, seu espontâneo comportamento tanto em em meio à plebe rude quanto em meio à realeza. Assediada pela paixão de três homens, o vice-rei, um toureiro famoso e um oficial espanhol, Camilla oscila entre suas paixões pessoais, incluindo sua ambição material (o título se refere a uma carruagem de ouro que ela ganha de presente do rei) e seu amor incondicional pela interpretação, pelo teatro. Não é difícil imaginar quem vencerá, em se tratando de um papel interpretado pela majestosa Anna Magnani.