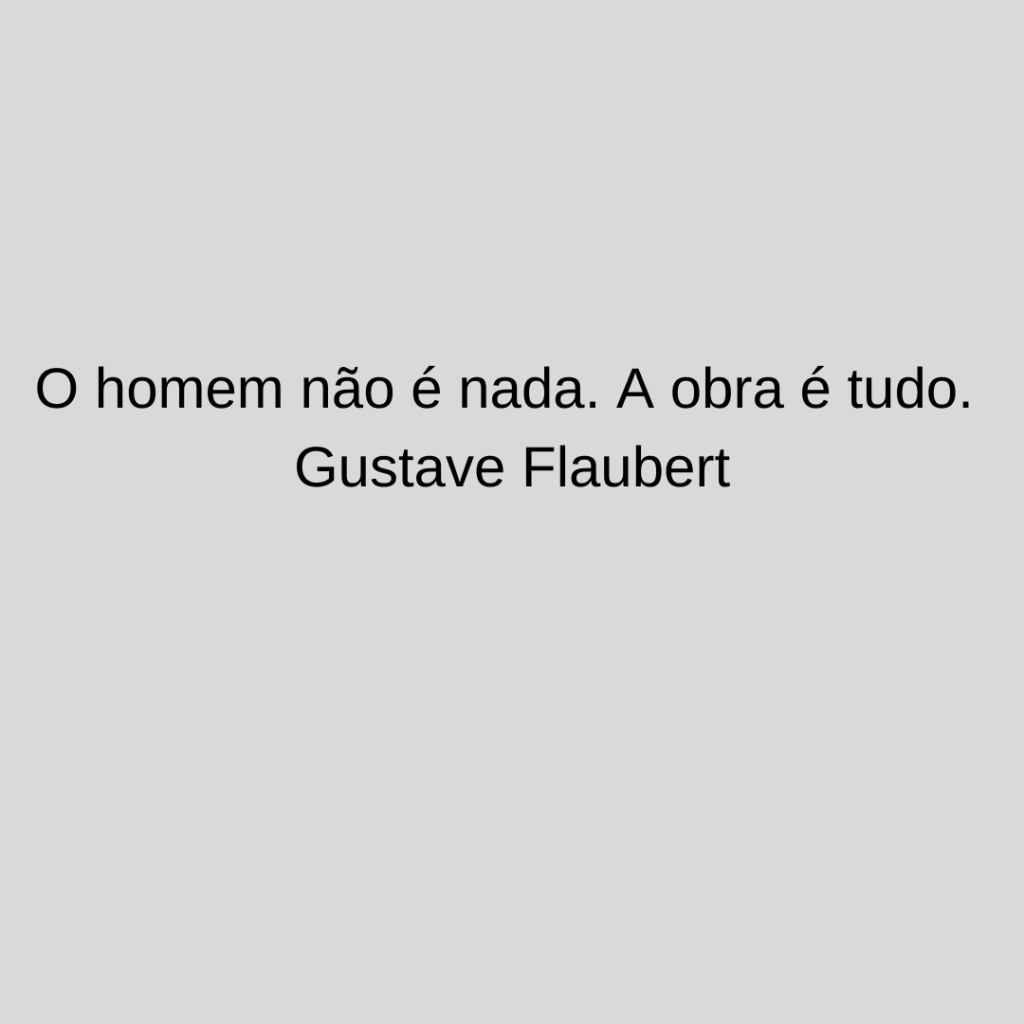
Arquivo mensal: fevereiro 2025
O comboio do medo

William Friedkin dedicou O comboio do medo (1977) a Henri George-Clouzot, realizador da primeira versão, O salário do medo (1953). Os dois filmes são adaptação do romance escrito por Georges Arnaud.
Na primeira parte de O comboio do medo, quatro situações acontecem em países diferentes. Nilo assassina friamente um homem em um hotel de Vera Cruz. Kassen participa de um atentado terrorista em Jerusalém. Victor se envolve em uma gigantesca fraude empresarial que resulta no suícidio de seu cunhado. Scanlon dirige um carro durante um assalto fracassado, que termina em um acidente, em Nova Jersey.
Na segunda parte do filme, os quatro estão foragidos em uma cidade da África, cuja região é controlada por exploradores americanos de petróleo. Quando um dos poços explode, os quatro são contratados para dirigir dois caminhões carregados de explosivos por uma estrada precária. Em troca de dinheiro para deixar o país, devem correr todos os riscos, a dinamite é necessária para apagar o incêndio do poço.
William Friedkin foi responsável por outros dois grandes filmes da década de 70, quando floresceu a chamada Nova Hollywood: Operação França (1971) e O exorcista (1973). A marca do diretor prevalece em O comboio do medo: thriller recheado de cenas de ação espetaculares, sem desprezar a construção de personagens complexos e envolventes
As sequências dos dois caminhões na estrada são de tirar o fôlego, com destaque para a travessia de uma ponte durante uma tempestade – as madeiras e cordas podem se destruir a qualquer momento com o peso dos caminhões. Os quatro protagonistas arriscam as vidas quilômetro a quilômetro, atormentados por seus passados violentos, esperançosos de retomar a vida longe do inferno político e social onde se aprisionaram.
O comboio do medo (Sorcerer, EUA, 1977), de William Friedkin. Com Roy Schneider (Jackie Scanlon), Bruno Cremer (Victor Manzon), Francisco Rabal (Nilo), Amidou (Kassen).
Essa pequena é uma parada

Em sua atuação como crítico, Peter Bogdanovich se consagrou com análises sobre o cinema clássico americano, com destaque para um livro e um documentário sobre seus autores favoritos: Orson Welles e John Ford. Essa pequena é uma parada (1977) é seu filme mais referencial desse cinema que o fascinava. A trama é uma mescla da comédia screwball que junta casais atrapalhados em situações nonsense com os thrillers policiais que resultam em perseguições de carros de tirar o fôlego.
O filme começa com um homem resgatando uma maleta xadrez com documentos secretos. Corta para o musicólogo Howard Bannister entrando em um táxi com uma maleta igual. Corta para Judy caminhando pelas ruas de São Francisco com aparentemente a mesma maleta. Corta para uma senhora entrando em um hotel com outra maleta xadrez.
Esses personagens, e mais uma série de coadjuvantes atrapalhados, se hospedam no mesmo hotel e no mesmo andar, provocando sequências cômicas de trocas das maletas. Judy é a principal propulsora de todas as confusões, com suas atitudes irreverentes, debochadas, subversivas, enquanto inicia um romance com o apalermado Howard.
Tudo termina em uma espetacular e hilária sequência de perseguição de carros a uma bicicleta pelas ruas de São Francisco, bem ao estilo Bullit (1968), com Steve McQueen. Em seu início de carreira como diretor, o crítico Peter Bogdanovich coloca todo o seu conhecimento de cinema a serviço de uma direção primorosa e sensível, deixando seus atores tomarem contas das cenas meticulosamente roteirizadas e planejadas para criar uma das grandes comédias da Nova Hollywood.
Essa pequena é uma parada (What’s up, Doc?, EUA, 1977), de Peter Bogdanovich. Com Barbra Streisand (Judy), Ryan O’Neal (Howard Bannister), Madeline Kahn (Eunice Burns), Kenneth Mars (Hugh Simon), Austin Pendleton (Frederick Larrabee).
Corrida sem fim

Monte Hellman era um promissor diretor da nascente Nova Hollywood quando realizou Corrida sem fim (1971), filme simbólico de uma geração que adotou a rebeldia como estilo de vida. Dois jovens, o motorista e o mecânico, percorrem as estradas com um Chevy 55 turbinado, se envolvendo em disputas automobilísticas valendo dinheiro. Dão carona a uma garota também sem rumo. O caminho dos três se cruza nas estradas com o solitário G.T.O. que inventa histórias para seus caroneiros. O motorista e G.T.O. apostam seus próprios carros em uma longa corrida até Washington.
Como visto, os personagens não têm nome, são representados pelas suas próprias máquinas. As disputas automobilísticas não são o centro da trama, algumas nem mesmo são mostradas. O que interessa a Monte Hellman são os complexos personagens, silenciosos, cujos olhares e ouvidos se dedicam às estradas e aos carros, com a solidariedade entre os competidores se destacando nas corridas. Corrida sem fim, assim como seu famoso predecessor, Easy rider (1969), simboliza essa geração que encontrou nas máquinas um rebelde instrumento de liberdade.
Corrida sem fim (Two-Lane Blacktop, EUA, 1971), de Monte Hellman. Com James Taylor (O motorista), Warren Oates (G.T.O.), Laurie Bird (A garota), Dennis Wilson (O mecânico).
O cremador

O cremador (República Tcheca, 1968 ), de Juraj Herz, é um dos filmes mais aterradores que trata simbolicamente do holocausto praticado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundia. karel Kopfrkingl (Rudolf Hrusinsky) é casado, tem dois filhos e começa a trabalhar em um crematório de Praga. É um pai dedicado a ensinar os filhos, seu comportamento e diálogos são demarcados por gestos e palavras pretensamente eruditos, seu jeito de se vestir e de se relacionar em público atestam um homem vaidoso, educado, disposto a ascender socialmente.
Essa ascensão começa a tomar contornos assustadores, encaminhando a narrativa para um thriller de suspense psicológico, quando seus amigos, adeptos do nazismo, o convidam para entrar no partido. Mas para isso, Karel precisa vigiar seus amigos judeus, incluindo sua esposa, que é “meia-judia”, portanto, o sangue de seus filhos também está “contaminado”.
O clímax do filme é simbólico dessas mentes perturbadas que dominaram os oficiais nazistas e grande parte da sociedade em busca da limpeza étnica. O crematório de Karel se transforma em um instrumento da morte, com cenas fortes envolvendo a mulher e os filhos do protagonista.
Os encontros de Anna

Os encontros de Anna (Les rendez-vous d’Anna, França, 1978), de Chantal Akerman
A cineasta Anna (Aurore Clément) percorre algumas cidades da Europa, cumprindo compromissos de promoção de seu mais recente filme. A estrutura do filme segue essa jornada demarcada por encontros com várias pessoas: amigos e amigas, familiares, profissionais da área, amores do passado e do presente.
Com essa história fragmentada, como se Anna vivesse uma série de histórias curtas, Chantal Akerman reflete sobre o próprio processo criativo do cinema, contando histórias que não se concluem, recheadas de personagens solitários, frugais, que buscam uma conexão mesmo que por uma noite. Anna caminha entre eles vivendo suas próprias experiências pessoais e profissionais, em um processo que evidencia a solidão em que vive, solidão melancólica que pode ter consequências imprevisíveis, talvez como um filme de final aberto.
A cura

A cura (Cure, Japão, 1997), de Kiyoshi Kurosawa.
O detetive Takane (Koji Yakusho) investiga uma série de assassinatos cometidos por pessoas aparentemente sem motivação, pessoas de passado íntegro que, de repente, cortam a garganta de pessoas próximas com um X e não conseguem explicar o porquê do ato cometido. São crimes isolados até que se descobre que um jovem esteve em contato com o(a) criminoso(a) momentos antes do crime.
A virada do roteiro aponta para um intrigante caso de hipnose e possessão, colocando o detetive e o suspeito em um conflito de consequências imprevisíveis, pois estamos falando de mentes que se conectam. A cura revelou o nome do roteirista e diretor Kiyoshi Kurosawa (sem parentesco com o famoso Akira Kurosawa) como um dos grandes nomes do terror japonês contemporâneo. O final aberto do filme sugere esses meandros inexplicáveis da mente humana.
Nove meses

Nove meses (Kilenc hónap, Hungria, 1976), de Márta Mészáros.
Se você ainda não conhece o cinema da húngara Márta Mészáros, comece por Nove meses e se prepare para uma das sequências finais mais impressionantes do contestador cinema dos anos 70. Juli (Lili Monori) trabalha em uma fábrica no norte da Hungria. Ela cursa ciências agrárias, tem um filho de seu amante anterior, um professor universitário casado, com quem mantém um ótimo relacionamento.
János (Jan Nowicki), seu supervisor na fábrica, assedia Juli e os dois começam um relacionamento conturbado. O conflito se instaura: Juli tem uma personalidade libertária, não teme assumir sua posição de mãe de um amante casado, luta para se emancipar através dos estudos, enquanto János se mostra cada vez mais possessivo, ciumento e apegado às ideias e atitudes machistas – ele exige, por exemplo, que Juli abandone seu filho e pare de trabalhar.
O filme caminha neste compasso libertador, com o forte olhar feminista de Márta Mészáros até a sequência final, arrebatadora, quando a atriz Lili Monori rompe as barreiras entre ficção e realidade de forma linda, corajosa e ousada.
Saco de pulgas

Saco de pulgas (Pytel blech, República Tcheca, 1963), de Vera Chytilová.
O filme começa com a jovem Jana (Helga Cocková) chegando no dormitório da fábrica onde vai trabalhar. Não vemos a personagem, apenas o grupo de garotas que dividem o espaço a tratando de forma jocosa, ironizando seu jeito e sua aparência. Nesse momento, conhecemos Jana pelos comentários que ela faz em off.
A abertura irreverente pontua o estilo da cineasta Vera Chytilová, uma das mais influentes da renascença do cinema Tcheco nos anos 60. Jana, aos poucos, demonstra sua personalidade combativa, se rebelando contras as regras rígidas do internato e da fábrica, regida por um comitê de homens, membros do partido socialista. Saco de pulgas representa o cinema contestador, feminista, de uma das principais diretoras do cinema theco.
A prisioneira

A prisioneira (La captive, França, 2000), de Chantal Akerman.
Chantal Akerman faz uma ousada e arriscada incursão pelo universo de Marcel Proust, adaptando o quinto volume de Em busca do tempo perdido. Ao mesmo tempo, busca inspiração em Alfred Hitchcock, colocando Simon, protagonista do filme, na posição de um obsessivo voyeur, bem referenciado em John Ferguson, de Vertigo.
O jovem, rico e possessivo Simon (Stanislas Maerhar) tem uma amante, Ariane (Sylvie Testud), que ao contrário se mostra passiva aos desejos do namorado durante a narrativa. Simon acredita que Ariane está tendo um caso com uma mulher e infringe a ela uma ostensiva vigilância. O relacionamento caminha por uma jornada de desejo consumido pelo ciúme, podendo terminar em um processo de autodestruição.
“Akerman está mais interessada em explorar em detalhe a matéria crua que compõe a relação entre Ariane (Syilvie Testud) e Simon (Stanislas Merhar) — i.e. diálogo, encontro e desencontro, sexo; enfim, o cotidiano de um casal — do que nos tempos fortes da narrativa ou nos símbolos (aos quais volta e meia recorre) para dar forma à obsessão de seu protagonista. Dois universos distintos, por certo, homem e mulher obedecem aqui à eterna e estranha lógica da aproximação e do convívio amoroso: um mundo feminino fechado, em segredo, cercado de muralhas intransponíveis para o homem, sempre na tentativa de invadi-lo, torná-lo claro, conhecido, regrado. A liberdade narrativa do filme serve, em suas elipses, em sua variação de tempos, a duas causas distintas mas complementares: a investigação do desejo de Simon, sua vontade de descobrir, sua vocação para o fetiche e para o autoerotismo; e a construção sutil do universo de Ariane, condicionada a ser objeto amoroso de Simon, prisioneira de sua condição como de um labirinto existencial cuja fuga improvável equivale à morte.” – Fernando Verissimo (Contracampo)
