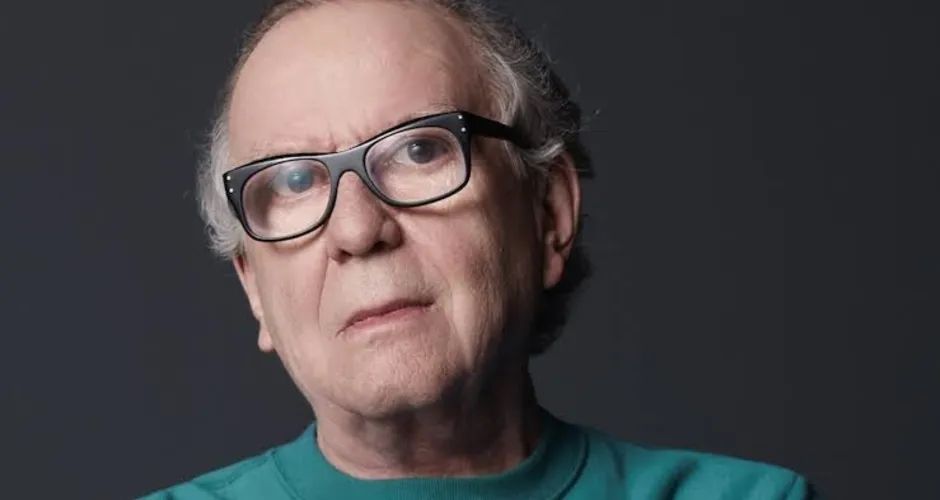A mãe fez o sinal da cruz assim que o carro passou pela ponte sobre o rio das Velhas. Voltou o rosto com olhar carinhoso para os filhos no banco de trás da perua Dodge, roçou de leve a mão do pai no volante. Era seu jeito de encarar com otimismo os sessenta quilômetros de estrada de terra que nos separavam do sopé da Serra do Cipó.
Cerca de três horas antes, o pai cumpriu seu ritual de arrumar cuidadosamente as bagagens no carro. No porta-malas traseiro, mochilas das crianças, a pesada mala da mãe, panelas, pratos e talheres, mesa de acampamento, banquinhos dobráveis, fogareiro de três bocas, dois pequenos botijões de gás – um para o fogo da comida, outro para o lampião. No bagageiro acoplado em cima do carro, a barraca de dois quartos, colchões, travesseiros e roupas de cama.
– Não esqueceu nada? – perguntou à mãe enquanto dava voltas com a corda de nylon, apertando a lona de plástico sobre as bagagens. Um dos meus desejos ainda é aprender a dar aquele nó de marinheiro no final, a corda rigidamente esticada, prensando a lona.
À medida que o Dodge vencia as lombadas da estrada, o barulho de panelas e talheres batendo se misturava às músicas de Nat King Cole, Elvis Presley e Frank Sinatra saídas da fita cassete gravada pelo pai. O sol forte da manhã castigava o interior do carro, os vidros abertos, a poeira começava a impregnar em cada um de nós.
– Mãe, meu estômago tá embrulhando.
– Falta pouco meu filho, já estamos chegando.
– Um humm… – insinuou o irmão mais velho, sorriso nos lábios, olhos presos no intenso movimento de final de ano da estrada. Carros abarrotados de bagagens no teto, pneus arriados pelo peso, passageiros se espremendo nos bancos. O pai cortou um fusquinha, a mãe reclamou da imprudência naquela estrada perigosa.
– Perigo nada, olha a reta. – disse o pai, voltando a se concentrar no volante, nas lombadas sem fim que faziam meu estômago dar voltas sobre ele mesmo.
– Não tome o pozinho que fica no fundo do copo. – alertou a mãe enquanto misturava o bicarbonato com limão. Fechei os olhos e tomei o líquido de um gole só. Ela entrou na barraca para acabar de arrumar os colchões, as mãos passando sobre os lençóis estendidos para tirar as dobras e deixar aquele suave toque de mãe na cama dos filhos.
A barraca tinha dois quartos separados que se prendiam na armação de tubos de alumínio. Uma lona cobria toda a extensão dos quartos, deixando um vão em frente a eles que servia como uma espécie de sala. Após o fecho que encerrava o interior, uma extensão retangular servia de varanda. O pai estava agachado do lado de fora, martelo na mão, batendo ainda mais nos piquetes, esticando as cordas que prendiam o teto de lona no chão.
– Tá vendo a cachoeira? Nesta época do ano costuma cair um toró no alto da serra, chuva forte, a enchente desce de repente, não dá nem tempo de correr. Por isso nunca podemos armar acampamento perto do rio. Aqui é seguro e não há vento que levante isto. – o pai tocou com os dedos a corda esticada.
Naquela noite, sentados na grama do lado de fora da barraca, o pai abriu uma garrafa de vinho, a mãe distribuiu refrigerante para os filhos. Uma garoa começou a incomodar, esfriar a noite quente de verão. As camisinhas presas nos bocais dos liquinhos iluminavam o acampamento. Perto das luzes, famílias e amigos reunidos, alguns rindo alto, outros silenciosos observavam o tempo, casais abraçados, crianças deitadas em pequenos colchões, um cachorro pequinês irritava com latidos agudos.
A garoa deu lugar a pesadas gotas de chuva. Recolhemos às pressas os banquinhos, o isopor com as bebidas, a garrafa de vinho. Um raio caiu no alto da serra seguido de um estrondo ensurdecedor. A chuva mudava de lado de uma hora para outra, o vento forte começou a balançar os tetos das barracas. A mãe olhava assustada para o alto da serra, estremecendo com os raios, se benzendo a cada trovão.
Entramos em um dos quartos da barraca. O vento balançava o teto, fortes rajadas de chuva batiam em cima, nos lados. A irmã caçula estava sentada no canto, os braços segurando as pernas dobradas, a cabeça pousada nos joelhos. A mãe puxou-a para junto de si.
Ouvi gritos do lado de fora, passos de gente correndo, mais gritos. Saí do quarto e abri o fecho da porta, o irmão também espiava. Solto, o teto da barraca em frente balançava ao vento. Três homens seguravam as cordas que ainda restavam presas no chão. Quando o vento diminuía, a lona descia sobre a barraca e logo a seguir uma forte rajada a levantava de novo. As mulheres no interior gritavam, uma delas não resistiu ao desespero, saiu correndo e entrou no carro, parado pouco à frente.
Ao lado, a lona de outra barraca rasgou-se ao meio. A água invadiu o interior, o casal tirava roupas de cama e mochilas, indo e voltando correndo do carro. De repente, todos os ventos se reuniram no alto da serra e desceram juntos pelo acampamento, foi assim que a mãe contou a história às amigas depois. O vento varreu quase tudo que encontrou pelo caminho. Tetos de barraca voaram, alguns bateram na copa das árvores e ficaram estendidos sobre os galhos, outros caíram no rio. Roupas de cama espalharam-se pela grama, panelas rolaram. Um estrondo alastrou-se pelo céu, ecoando em cada montanha que achou à sua frente.
A mãe gritou pelos filhos. Entramos assustados no quarto da barraca. Ela abriu os braços, nos aconchegando em seu peito, sua cabeça acima das nossas, olhos atentos a cada movimento, ouvidos presos nos trovões.
– Onde está seu pai? Onde está seu pai? – seus braços apertaram mais ainda os filhos.
Poucos segundos depois, o pai entrou. Seu rosto respingando água, roupas encharcadas. Ele correu os olhos por toda a barraca, passando as mãos pelo teto, às vezes ajoelhava-se em um canto mais difícil. Por fim, sentou-se do lado de fora dos quartos, pegou seu copo de vinho que permanecia intacto em cima da mesinha de acampamento.
– Dei uma olhada nos piquetes lá fora, estão todos bem presos, as cordas no lugar, olha só, a barraca nem se mexe. – disse olhando para o teto. Em seguida, levantou o copo de vinho no gesto característico, a mãe ainda agarrada aos filhos.
– Feliz ano novo.